RELENDO MARAJÓ DE DALCÍDIO JURANDIR
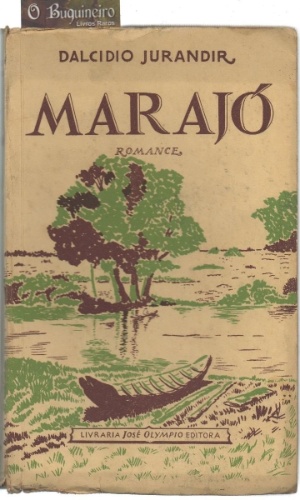
"Marajó" (1947, 325 páginas, José Olympio Editora)
As
escamas dos meus olhos
José Marajó Varela
1 - Um ensaio caboco (quase
autobiográfico).
Marambaia, aldeia de Belém do Grão-Pará, Sexta-feira,
1º de julho de 2016. Rua da Mata (minto, Benfica) antiga boca de sertão do
caminho do Maranhão transformada em subúrbios-dormitórios... Cidade morena afrolusobrasileira,
metrópole equinocial: margens da baía do Guajará, ilhas cabanas banhadas pelo
rio de Guamá [cacique dos Aruã e Mexiana do Marajó velho de guerra], país
antigo da Amazônia oriental que tem porto de mar no Caribe.
O caboco velho que vos fala, por acaso, viu-se privado
por um momento de seu ópio moderno, a tal de internet... Antão, em crise de abstinência fui pedir ajuda aos
velhos livros deixados de lado na estante, onde há tempos me pediam pra deixar de
bandalheira, levantar, bater poeira, espantar as traças e novamente conversar
com eles... Olha só quem me chama, psiu... psiu... É o meu velho “Marajó” querendo, paresque, ser relido
desta vez com outros olhos! Algo me diz que um livro é como um rio que a cada
viagem diferente vai revelando seus segredos. Masporém, quando a gente acha que
já leu tudinho, eis uma frase esquecida, uma palavra mal compreendia, nova
conotação... Afinal se deve respeitar o direito autoral e a vontade do autor,
mas há que se compreender as limitações da leitura: assim é se lhe parece. O
livro não muda, muda a percepção do leitor no tempo e no espaço. Sobre Dom Quixote, dizem que há um tempo de
ler Cervantes para rir, na mocidade, e outro na maturidade para chorar...
Que me parece agora o romance “Marajó”, esboçado em 1933 como “Missunga”,
acabado de escrever em 1939 com título de “Marinatambalo”
e publicado em 1947? Andando, outra vez
naquelas páginas, pelo Paricatuba, vila de Ponta de Pedras, Campinho,
Mangabeira, Cachoeira, Belém dos anos 30 (antes mesmo de eu nascer) e Lago
Arari na paisagem da estória, que coincidências acharei com a história dos
lugares de mesmo nome contemplados pelo autor? Tantos personagens e localidades
que me parecem tirados da vida real para habitar o romance. O estranho Tomás do
Mato, por exemplo, que praticamente negligenciei na primitiva leitura;
corresponde quase em tudo a um pobre e infeliz aluado chamado Tomás do Mato
que, em priscas datas, eu conheci em casa de meu avô materno, no sítio Serrame.
Já o povo, antes do romanista, inventava estória sobre o homem desconhecido que
apareceu ali pelas beiras do Canal e, de vez enquando, desaparecia pelo mato
quando era tempo de lua... Quantas vezes o menino Dalcídio com seus país
pernoitou no sítio Serrame, fazendo escala de viagem a remo entre as vilas da
Cachoeira e de Ponta de Pedras ouvindo ele sisudas conversações dos meus avós
Alfredo Nascimento Pereira e Francisco Perez Varela? Aquelas longas viagens
antigas, quando os bichos do fundo conversavam com os pajés e a natureza se
convertia em paisagem mágica para distrair a dor e o sofrimento humano.
No dia 17 p.p., participei na Universidade do Estado
do Pará (UEPA) do primeiro Dia de
Alfredo (16 de Junho) criado pela lei municipal 9164, de 18 de dezembro de
2015, de autoria do vereador Moa Moraes, da Câmara Municipal de Belém. O
vereador é bisneto do motorneiro Argemiro Dias do Nascimento, que foi empregado
da companhia inglesa de bondes e eletricidade do Pará, membro ativo do PCB,
preso pela polícia política do Estado Novo e companheiro de cela de Dalcídio no
presídio São José (1937) [hoje polo joalheiro São José Liberto]. No ato na UEPA,
o professor Paulo Nunes, bondosamente, me presenteou com um magnífico carocinho
de tucumã (símbolo emblemático de Alfredo, criatura imortal de Dalcídio Jurandir
no ciclo literário Extremo Norte e que, muita merecendência para um caboco
velho, me vale paresque como diploma honoris
causa da Academia do Peixe Frito) e o amigo indagou qual meu romance
preferido na obra do autor marajoara.
Em vez d’eu lhe responder logo, dizendo o “Chove” (“Chove nos campos de Cachoeira”, onde toda saga de Alfredo lá se
concentra) contei aos presentes uma história dando voltas que nem o rio Arari
desde o Lago até a Boca, na baía. Por acaso, lá fora da UEPA chovia a cântaros
e uma greve brindava o dia... Por acaso também, em Ponta de Pedras, há mais de
sessenta anos, minha saudosa avó Sophia apresentou-me o “Marajó” do tio Dalcídio e sendo este o primeiro romance que eu li
na vida acabou o dito para mim sendo um curso de alfabetização política e
sentimental que não completei ainda... Dali em diante, mesmo sem saber ler e
escrever corretamente, me surdi a querer fazer que nem aquele famoso parente
escritor vivendo ele no Rio de Janeiro.
Deixa estar, que quando isto aconteceu eu tinha mais
ou menos dezesseis anos de idade, tapado que nem uma porta. Embora para quem
teve sorte de frequentar o grupo escolar da vila, já escrevendo o suficiente
para aumento do número de eleitores. Masporém, ainda não havia eu idade
completa para tirar título de eleitor nem pra servir o exército. Naquele tempo,
analfabeto não votava... Quer dizer, antão, que como leitor de romance eu era
um bom jogador de bola de rua...
Confesso que o livro do tio foi para mim, naquele
inesperado encontro, como uma história bacana da vila de Ponta de Pedras, a mesma
que se ouvia vulgarmente contada na boca da gente. Masporém, nas suas páginas
para o leitor despreparado à recepcionar a obra romanesca, eram como falassem
dezenas de contadores de história, tal qual na tradição oral de tio Vicente
rezador goiaba pelos sítios na espera de devotos para ladainha, o casal dona
Branca Moraes e seu Ciro nas mil e uma noites dos Açores, talvez, importadas no
Curralpanema: “Branca Flor, já dorme?...
Não, senhor”. O vento da noite rolando no terreiro trazia estória pra
dentro da casa na beira do rio, fracamente iluminada à luz de lamparinas. A escuridão
vinha dos campos queimados, os vagalumes carregavam o mito da primeira noite do
mundo e do fundo do rio boiava a lenda da Cobragrande. Então a estória dava
sono e a chave do reino dos sonhos, quando não de escuros pesadelos.
Mas, que história afinal de contas era aquela do meu
tio morando longe e ao mesmo tempo perto da gente em seu modo tão certo de
contar estoria? Se, na verdade, muitos livros festejados de história resultam
em estória da Carochinha, o “primeiro romance sociológico brasileiro” (apud Vicente Salles), vestido de ficção,
rompe a crosta dura da realidade para mostrar o drama da criaturada, a tragédia
humana prisioneira do tempo: tal qual dona Silvana presa na torre do castelo de
seu pai incestuoso e a infeliz Orminda marcada por sina cruel na torre duma
igreja do anti-Cristo... Estigma
colonial que, desde início, Las Casas pôs a nu. Mas, vá a criaturada saber sem
aprender a ler!...
Com “Marajó” às mãos, caíram-me as escamas dos olhos: pena que Alfredo não está lá. Ou está oculto pelas margens, na pessoa física do autor? Ele não seria o alter ego de Dalcídio? A cabo da primeira leitura, vi a Criaturada grande em carne e osso, passando pelo rio e a rua, na porta do Mercado, na igreja, apanhação de açaí, tiração de lenha, embarque e desembarque de gado brabo para o Curro... Os senhores e senhoras da história podiam ter lá seus nomes trocados e inventados na estória, masporém a leitura desta gente era ao pé da letra, diferente da academia... Os conterrâneos conheciam bem os personagens apesar do jogo atrás do manto de fantasia. Descobriam parentes e aderentes retratados: dali em diante, comecei a entender o porquê de certa censura do arcebispo Dom Mário de Miranda Vilas Boas à obra de Dalcídio Jurandir, desaconselhada aos católicos do Pará, conforme o catecismo capa branca (novinho em folha) que tia Armentina me havia dado em preparação à minha primeira comunhão na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Pedras.
[apresentação / primeira parte...]


Muito bom, também quero reler ele. Um livro giganteco - Marajó - assim como a ilha. Abraços
ResponderExcluirMuito bom, também quero reler ele. Um livro giganteco - Marajó - assim como a ilha. Abraços
ResponderExcluir